Belo Horizonte (MG) — Quase sete anos depois do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho (MG), povos e comunidades tradicionais atingidos continuam à espera das medidas emergenciais de reparação previstas no acordo judicial firmado em 2021 entre a mineradora e o governo de Minas Gerais. As ações, que deveriam garantir água potável, segurança alimentar e sustento de práticas ancestrais, não saíram do papel e só devem começar a ser executadas a partir do segundo semestre de 2026.
O acordo reconheceu formalmente esses povos como atingidos, reservando nos anexos 1.3 e 1.4 uma série de iniciativas consideradas essenciais para a sobrevivência dos territórios. São projetos que envolvem desde infraestrutura hídrica até condições adequadas para rituais religiosos e manutenção de modos de vida tradicionais.
Mas a morosidade na implementação aprofunda a sensação de abandono em comunidades que já haviam sido afetadas pela lama, pela perda de território e pela interrupção de suas atividades espirituais.
A demora atinge dimensões que vão além da logística. O tempo das comunidades tradicionais não é o tempo da burocracia: seus rituais, ciclos, colheitas e práticas espirituais dependem de água, de território íntegro e de estrutura mínima para funcionar.
Quando essas condições não existem, não se trata apenas de um atraso administrativo — é uma interrupção direta do modo de vida. Casas de axé e espaços sagrados relatam anos de estagnação, funcionando no limite ou paralisados pela falta de segurança e de condições materiais.
Segundo relatou o Brasil de Fato, lideranças tradicionais apontam que o atraso reiterado das medidas emergenciais representa “mais uma camada de violência” sobre povos já historicamente vulnerabilizados. A avaliação é de que o cronograma imposto pela empresa e pelo Estado não reflete a urgência real das necessidades, nem a dimensão cultural e espiritual do que está em jogo.
A paralisação dos projetos também compromete direitos garantidos por legislações nacionais e internacionais que reconhecem a especificidade dos povos tradicionais — incluindo sua relação com a natureza, sua autonomia e seus valores espirituais.
Quando medidas essenciais levam quase uma década para começar, essas garantias deixam de significar proteção e se tornam apenas formalidade jurídica.

Além disso, a lentidão aprofunda a invisibilização histórica desses povos. A reparação integral, anunciada como compromisso após o crime socioambiental, se distancia da prática cotidiana.
O que deveria ser uma resposta ágil a um desastre causado por um modelo de mineração agressivo se transforma em espera infinita, acompanhada por perda de território, insegurança alimentar e impossibilidade de manter rituais fundamentais para a identidade coletiva.
O quadro revela uma contradição estrutural: enquanto relatórios, audiências e anúncios oficiais falam em reconstrução, as comunidades seguem sem água suficiente, sem infraestrutura mínima e sem condições de retomar plenamente sua vida espiritual. A distância entre a retórica institucional e a realidade dos territórios atingidos aumenta a cada mês de inércia.
Leia Mais
No fim, o que as lideranças denunciam é um padrão que atravessa desastres ambientais no Brasil: a promessa de reparação chega rápido, mas a execução se arrasta. Para povos tradicionais, essa demora não é apenas incômodo — é ameaça direta à continuidade de culturas que sobrevivem há séculos à margem do Estado.
E, enquanto as medidas emergenciais não chegam, a reconstrução segue acontecendo sozinha, à força, nos territórios que lutam para existir apesar da lama e da lentidão oficial.



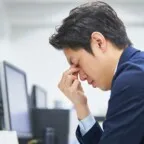











Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Ainda não há comentários nesta matéria.