Com o anúncio de 19 medidas voltadas a estimular consumo e serviços, a China volta a colocar o Estado no centro de sua estratégia econômica. Essa medida injeta fôlego imediato em um cenário de desaceleração, mas também expõe contradições: sustenta a demanda no curto prazo, ao mesmo tempo em que reforça dúvidas sobre risco fiscal, eficiência produtiva e confiança privada.
Intervenção como motor de curto prazo
O conjunto de medidas lançado por Pequim mira diretamente setores como internet, telecomunicações, saúde, educação e turismo. A ideia é criar uma onda de consumo interno capaz de compensar a fraqueza das exportações e a lentidão do investimento privado.
Para isso, o governo mobiliza fundos estatais, emite títulos especiais locais e orienta bancos a expandirem o crédito. Esse tipo de resposta tem efeito quase imediato: empresas do setor de serviços recebem estímulos, consumidores encontram linhas de financiamento mais acessíveis e a atividade econômica ganha tração.
Contudo, o custo recai sobre o aumento do endividamento local e a dependência de decisões centralizadas. A cada nova desaceleração, o mesmo mecanismo é acionado, tornando a intervenção estatal uma peça estrutural do crescimento chinês.
O retorno do keynesianismo em tempos de crise
A lógica por trás dessas medidas não é inédita. Desde a crise de 1929, as ideias de John Maynard Keynes ganharam força ao defender que, em momentos de retração, cabe ao Estado expandir gastos e crédito para evitar colapsos econômicos.
Essa abordagem reaparece a cada choque global: em 2008, com o mesmo conjunto de medidas nos EUA e na Europa; em 2020, durante a pandemia; e agora, no esforço chinês para segurar um crescimento em torno de 5%.
A diferença, porém, está na escala e na continuidade. Enquanto economias desenvolvidas utilizam o intervencionismo como instrumento temporário, a China transformou o keynesianismo em prática recorrente.
Em vez de agir apenas em crises agudas, mantém o Estado como engrenagem central, sinalizando que o mercado, por si só, não é considerado capaz de sustentar o dinamismo da economia.
Capitalismo de Estado em prática
Esse caminho levou ao que analistas chamam de “capitalismo de Estado à chinesa”: um modelo em que o governo atua simultaneamente como regulador, investidor e planejador.
De um lado, Pequim promete abrir setores a capital privado e estrangeiro. De outro, mantém as rédeas firmes sobre áreas consideradas estratégicas, como energia, tecnologia, telecomunicações e finanças.
O paradoxo é evidente. A China busca atrair confiança e investimento externo, mas reforça a presença estatal como filtro e condutor de prioridades.
Essa ambiguidade gera incertezas, uma vez que para empresas estrangeiras, a liberalização seletiva parece mais uma concessão calculada do que um movimento rumo a uma economia mais aberta.
No plano interno, o setor privado continua dependente de crédito estatal e de subsídios direcionados, o que limita sua autonomia.
Leia Mais
-
 FMI e São Tomé e Príncipe fecham acordo para ampliar crédito e conter crise
FMI e São Tomé e Príncipe fecham acordo para ampliar crédito e conter crise
-
 Fórum Econômico Mundial alerta para três bolhas criadas pela ausência de regulação pública
Fórum Econômico Mundial alerta para três bolhas criadas pela ausência de regulação pública
-
 Pequim e Moscou ampliam aliança econômica em resposta à fragmentação global
Pequim e Moscou ampliam aliança econômica em resposta à fragmentação global
-
 Fome e impunidade se consolidam como armas de guerra no Sudão
Fome e impunidade se consolidam como armas de guerra no Sudão
O laboratório das economias emergentes
Vale destacar que essa experiência não se restringe ao contexto chinês. Ao assumir o Estado como motor permanente do crescimento, a China se transforma em um laboratório observado por outras economias emergentes.
Para países como Brasil, Índia ou África do Sul, que enfrentam dilemas de baixo investimento privado, desigualdade e fragilidade fiscal, a pergunta é se o modelo chinês é exportável ou apenas uma exceção histórica.
Afinal, o país conseguiu manter taxas de crescimento superiores à média global por décadas, reduziu a pobreza em escala massiva e consolidou um mercado interno robusto. No entanto, os riscos também se acumulam.
O endividamento das províncias, a queda da produtividade e a dificuldade de gerar confiança no setor privado indicam que o capitalismo de Estado tem limites claros, dado que mais estímulo pode significar mais crescimento, mas também mais vulnerabilidade no futuro.
Até onde vai o Estado?
As últimas crises globais recolocaram a intervenção estatal como peça-chave em economias desenvolvidas e emergentes. O que difere é a intensidade e a permanência do protagonismo do governo.
Nos países ocidentais, o Estado aparece como socorrista em situações de emergência. Em Pequim, ele se torna planejador e executor de longo prazo.
A questão central, portanto, não é se o Estado deve ou não intervir, mas até onde. O pacote chinês reforça a percepção de que o intervencionismo pode sustentar o crescimento imediato, mas cria dependências difíceis de reverter.
Para países emergentes que buscam inspiração, o alerta é claro: mais gasto público e crédito direcionado podem aliviar tensões sociais e estimular a economia, mas também corroem eficiência e aumentam o risco fiscal.
Dessa forma, o novo pacote de estímulos da China ilustra os limites de um modelo híbrido que combina keynesianismo e capitalismo de Estado, garantindo fôlego no curto prazo, mas acentuando dilemas de longo prazo sobre produtividade, dívida e autonomia do setor privado.
Para o mundo emergente, essa experiência funciona como vitrine e alerta: intervenção estatal pode ser necessária, mas sua eficácia depende de equilíbrio e de confiança — ativos tão valiosos quanto o próprio crescimento.

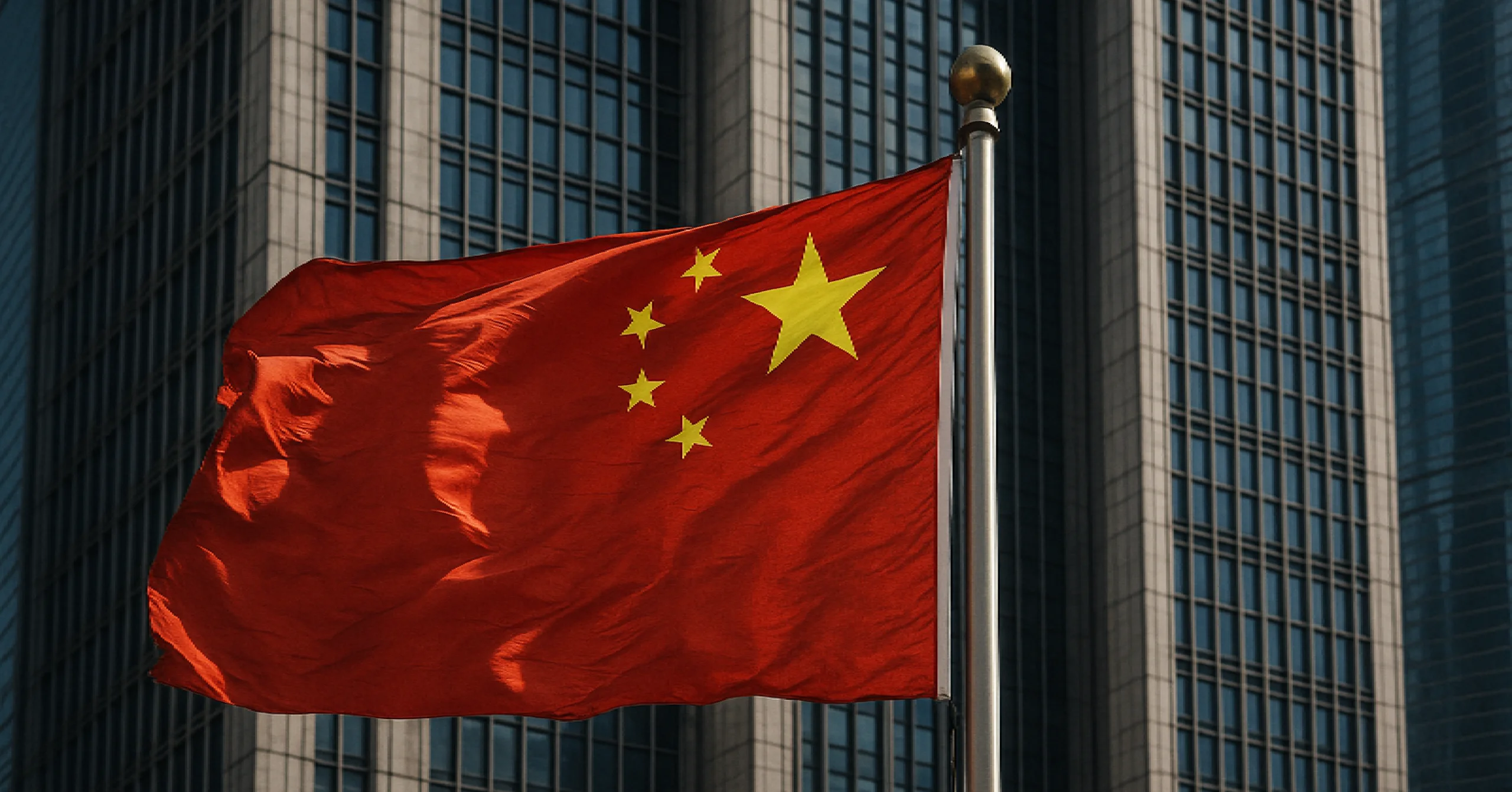













Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Ainda não há comentários nesta matéria.