Rio de Janeiro (RJ) — Um dia após a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 121 mortos nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, a Organização das Nações Unidas pediu uma investigação imediata sobre o caso e apontou que a alta letalidade policial no Brasil é resultado de um racismo estrutural que se tornou “normalizado”.
Em nota divulgada nesta quarta-feira (29), O secretário-geral António Guterres declarou estar “extremamente preocupado” com o uso da força pelas autoridades brasileiras e defendeu que as ações de segurança devem seguir as normas internacionais de direitos humanos.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, foi mais incisivo: pediu uma reforma abrangente nos métodos de policiamento e o fim de um sistema que, segundo ele, “perpetua racismo, discriminação e injustiça”.
A nota marca uma rara intervenção pública da ONU em temas de segurança interna de países democráticos e coloca o Brasil no centro de um debate global sobre violência policial. Para Türk, a sucessão de operações que terminam em dezenas de mortes, concentradas em áreas pobres e negras, indica um padrão de violação sistemática do direito à vida.
Nos morros do Alemão e da Penha, o dia seguinte foi de silêncio e medo. Corpos espalhados nas ruas, escolas fechadas, ônibus recolhidos, e famílias buscando notícias de parentes desaparecidos compõem um retrato de luto coletivo.
A Secretaria de Segurança afirma que a operação visava cumprir cerca de cem mandados contra membros do Comando Vermelho. Foram empregados helicópteros, blindados e mais de 2 mil policiais.
O governo estadual classificou a ação como “exitosa”, mas a discrepância entre o número de mortos e presos reacendeu críticas antigas. Para entidades de direitos humanos, o episódio confirma a lógica de guerra que guia as políticas de segurança: operações de saturação, ausência de controle externo e impunidade de agentes.
Ao mencionar o “racismo sistêmico”, Türk retomou uma discussão frequentemente marginalizada no debate público brasileiro. Pesquisas do Fórum de Segurança mostram que cerca de 80 % das vítimas da polícia são negras.

O perfil das vítimas coincide com o da população residente em áreas de incursão. O alerta da ONU ecoa diagnósticos de pesquisadores brasileiros, para quem a desigualdade racial não é efeito colateral, mas estrutura de sustentação do modelo policial.
A reação internacional pressiona o governo federal a responder. O Itamaraty, até o momento, limitou-se a dizer que acompanha as apurações e reafirma o compromisso do Brasil com os tratados de direitos humanos.
Internamente, o Ministério da Justiça estuda propor um protocolo nacional de operações em áreas urbanas densas, mas especialistas ouvidos sob anonimato avaliam que a resistência política é grande.
O caso também reacende um dilema histórico: o que o Estado brasileiro entende por segurança. Desde os anos 1990, a militarização das polícias e o discurso de guerra ao tráfico consolidaram uma prática em que o território periférico é tratado como campo inimigo.
Leia Mais
-
 Cidadania PopRua aposta em inclusão e devolve voz à população em situação de rua
Cidadania PopRua aposta em inclusão e devolve voz à população em situação de rua
-
 Quando o Estado aprende a falar Kaiowá: a tradução da Constituição como gesto de reparação histórica
Quando o Estado aprende a falar Kaiowá: a tradução da Constituição como gesto de reparação histórica
-
 Guerras e cortes orçamentários empurram direitos das mulheres ao limite
Guerras e cortes orçamentários empurram direitos das mulheres ao limite
-
 Marcha das Mulheres Negras propõe novo pacto por igualdade racial
Marcha das Mulheres Negras propõe novo pacto por igualdade racial
O resultado é um ciclo de violência que se retroalimenta — operações geram mortes, as mortes produzem revolta, e a revolta legitima novas operações.
Ao enquadrar o episódio como questão de direitos humanos e de racismo estrutural, a ONU introduz um elemento diplomático novo. Países-membros podem exigir do Brasil relatórios e medidas corretivas, e a pressão tende a crescer em organismos multilaterais, especialmente após a criação do Mecanismo Internacional de Justiça Racial da própria ONU.
Para as comunidades atingidas, no entanto, a urgência é mais concreta: enterrar seus mortos e reconstruir a vida sob a presença armada do Estado.
Em meio à dor, moradores falam em “massacre”, enquanto o governo insiste em “êxito operacional”. Entre essas duas narrativas, surge o abismo que separa o discurso oficial da experiência cotidiana da violência.
A nota da ONU não muda a realidade nas ruas, mas impõe uma pergunta incômoda: até quando o país aceitará que a morte de seus cidadãos pobres e negros seja o preço natural da segurança?


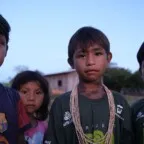











Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Ainda não há comentários nesta matéria.