O colapso da economia venezuelana não foi um evento súbito, mas um processo de erosão constante. Nos primeiros anos após a morte de Chávez, o petróleo ainda sustentava as aparências de prosperidade. O barril acima dos US$ 100 mascarava o desmonte produtivo interno, a corrupção e a dependência de importações.
Quando os preços despencaram, em 2014, o país perdeu seu último alicerce fiscal. A revolução bolivariana, que prometera independência econômica, tornou-se refém da própria dependência energética.
O governo reagiu com o que chamou de “economia de resistência”: controle de câmbio, tabelamento de preços e emissão de moeda em ritmo vertiginoso.
O resultado foi a hiperinflação mais longa do século XXI. Em 2018, o Fundo Monetário Internacional estimava que a inflação anual chegava a 1.000.000%.
“A Venezuela viveu um colapso econômico comparável apenas ao de países em guerra”, explicou Francisco Rodríguez, ex-economista-chefe do Banco Central e consultor do Center for Economic and Policy Research. “Foi uma depressão sem conflito armado.”
Os números contam uma tragédia social. O PIB caiu mais de 75% entre 2013 e 2021, segundo dados do Banco Mundial. O salário mínimo oficial, convertido em dólar, não chegava a dois por mês.
O desabastecimento alcançou remédios, combustíveis e alimentos básicos. Milhares de médicos, professores e engenheiros migraram. Nas fronteiras com a Colômbia e o Brasil, famílias inteiras atravessavam a pé, carregando mochilas e retratos.
“É um êxodo silencioso, mas constante”, observou David Smolansky, coordenador da Organização dos Estados Americanos para a crise migratória venezuelana. “As pessoas não fogem de uma guerra, fogem da ausência de futuro.”
O impacto humanitário foi devastador. Segundo a ONU, mais de sete milhões de venezuelanos deixaram o país até 2025 — o maior deslocamento da história recente da América Latina.

Em cidades como Bogotá, Lima e São Paulo, a presença venezuelana se tornou parte do cotidiano. Surgiram padarias com arepas, cabeleireiros improvisados, vendedores ambulantes com sotaque caribenho e histórias de perda.
Enquanto a nação se esvaziava, o regime de Nicolás Maduro endurecia a retórica. A culpa pelo colapso era atribuída às “sanções imperialistas” e ao “bloqueio financeiro internacional”. No discurso oficial, o êxodo era interpretado como resultado de manipulação estrangeira.
“Maduro construiu uma narrativa de cerco”, explicou Tamara Taraciuk Broner, da Human Rights Watch. “Ele transformou a crise em ferramenta ideológica: quem critica o governo é cúmplice do inimigo externo.”
A hiperinflação corroeu a moeda e a confiança. Cedendo à pressão, o governo autorizou o uso do dólar como meio de pagamento em 2019 — uma dolarização informal que estabilizou preços, mas aprofundou desigualdades.
Quem tinha acesso à moeda estrangeira, geralmente ligados ao setor público ou militar, manteve padrão de vida; os demais sobreviveram em bolívares desvalorizados.
“Foi uma dolarização sem justiça”, disse o economista Asdrúbal Oliveros, diretor da consultoria Ecoanalítica. “Ela criou duas Venezuelas: uma que consome e outra que sobrevive.”
Nesse contexto, Maria Corina Machado voltou à cena, não mais como candidata, mas como símbolo de uma resistência global. De fora, passou a denunciar a “corrupção humanitária” do regime — a distribuição de comida e gasolina como instrumentos de fidelidade política.
Suas declarações, transmitidas por canais internacionais e redes da diáspora, encontraram eco em comunidades venezuelanas espalhadas pelo mundo.
Em Madrid, Lisboa e Buenos Aires, surgiram comitês autônomos de apoio. Grupos organizavam marchas, levantavam fundos e pressionavam organismos internacionais.
“A diáspora se tornou a nova base da oposição”, afirmou o sociólogo Tomás Páez, autor do estudo La Voz de la Diáspora Venezolana (Universidad Central, 2023). “São cidadãos que perderam o território, mas não o pertencimento.”

A comunicação entre exilados e quem ficou no país era precária, mas persistente. Redes sociais, transmissões por VPN e mensagens criptografadas substituíram os antigos partidos.
Maria Corina, impedida de viajar, passou a usar esses canais como extensão política. Sua voz, antes reprimida em Caracas, reverberava nos cafés de Bogotá e nos bairros de imigrantes de São Paulo.
“Ela transformou a distância em força”, analisou o jornalista Ewald Scharfenberg, do Armando Info. “Enquanto Maduro governa sobre o medo, ela governa sobre a saudade.”
O governo tentou neutralizar essa influência por meio de campanhas de difamação. Programas de televisão a retratavam como “agente estrangeira” e “inimiga da pátria”. Mas a imagem de Maria Corina já transcendera o território. No exílio, ela se tornara uma narrativa em si — a mulher que sobreviveu ao silenciamento e o converteu em símbolo.
A diáspora, por sua vez, começou a se organizar como uma rede política difusa. Em 2024, universidades estrangeiras receberam estudantes venezuelanos com bolsas emergenciais; organizações religiosas acolhiam refugiados em fronteiras; ONGs mapeavam rotas de migração clandestina. O drama coletivo se transformou em argumento político.
“Quando sete milhões deixam o país, o problema deixa de ser interno”, disse Luis Vicente León, em entrevista à El País América. “O êxodo é o novo referendo.”
Leia Mais
A cada nova onda migratória, a imagem de Maria Corina se projetava mais. Em 2025, já reconhecida internacionalmente, ela seria indicada por organizações civis latino-americanas ao Prêmio Nobel da Paz — uma candidatura que, à época, parecia improvável.
A justificativa: sua persistência em denunciar violações de direitos humanos, mesmo após anos de perseguição e censura. O regime reagiu com ironia.
Porta-vozes de Maduro classificaram a indicação como “piada imperialista”. Mas a repercussão mundial reacendeu o debate sobre a legitimidade do chavismo. Analistas internacionais voltaram a discutir o futuro da Venezuela — não como economia, mas como projeto de sociedade.
“A Venezuela deixou de ser apenas um país em crise”, observou Phil Gunson, do International Crisis Group. “Tornou-se um espelho de advertência para toda a região.”
Entre os exilados, o sentimento era ambíguo. Havia orgulho pela visibilidade conquistada, mas também melancolia. Muitos viam em Maria Corina uma voz que os representava, ainda que distante; outros a criticavam por falar de fora. A política, fragmentada no território, se transformava em diáspora emocional.
Nas redes, a líder passou a publicar mensagens sobre reconstrução, reconciliação e futuro. A linguagem endurecida da oposição cedia espaço a uma retórica de esperança.
“Não é o fim, é o exílio da dignidade”, dizia um de seus comunicados de 2024. Essa virada de discurso a preparava, ainda sem saber, para o reconhecimento internacional que viria no ano seguinte.
Entre ruínas econômicas e fronteiras fechadas, a Venezuela de 2025 era um país espalhado. Nas praças de Bogotá, nos abrigos de Roraima, nas feiras de Quito — o país existia em pedaços, mantido pela memória e pela voz de quem partiu.
A diáspora transformou-se em nação paralela: sem território, mas com identidade; sem governo, mas com causa. E, no centro desta narrativa dispersa, o nome de Maria Corina Machado ecoava como símbolo político de um povo que ainda buscava voltar para casa.
Nos próximos capítulos, veremos como essa trajetória de resistência e exílio culminou no reconhecimento internacional — e como o Prêmio Nobel da Paz transformou Maria Corina em mito político, ao mesmo tempo celebrado e contestado.
Capítulos anteriores:













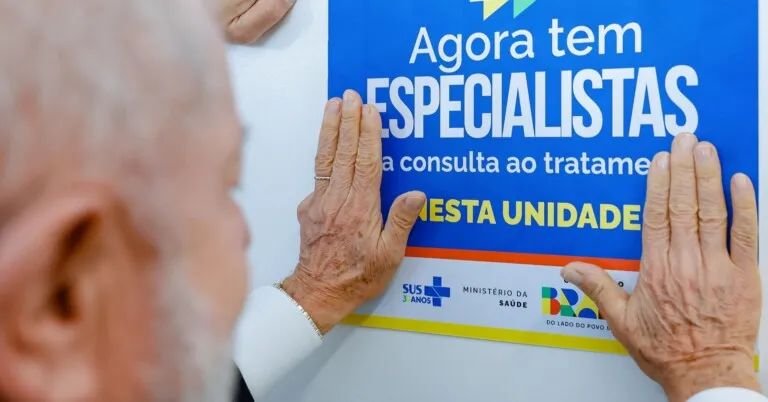
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Ainda não há comentários nesta matéria.