O rosto de Maria Corina Machado havia deixado de aparecer nas telas da televisão estatal, mas ainda circulava em muros, cartazes e mensagens clandestinas. A censura não bastou para apagá-la da memória popular. Mesmo inabilitada para disputar cargos e impedida de sair do país, seu nome continuava a ser sussurrado em filas de supermercados e de fronteira — um eco teimoso da oposição civil.
Em 2024, a repressão venezuelana assumiu um caráter total. O regime de Nicolás Maduro, mais dependente do aparato militar do que nunca, intensificou o controle sobre sindicatos, universidades e ONGs. A chamada “Lei Contra o Ódio”, aprovada em 2017, mas raramente aplicada de forma pública, passou a ser usada como instrumento cotidiano para processar jornalistas, ativistas e professores.
“A Venezuela vive uma forma moderna de exílio interno”, observou Marino Alvarado, advogado da ONG Provea, em entrevista à Deutsche Welle. “Você pode até não estar preso, mas está proibido de existir politicamente.”
Maria Corina tornou-se o exemplo mais visível dessa condição. Cercada, sem passaporte e vigiada em tempo integral, viu sua equipe ser desmantelada por prisões seletivas e acusações infundadas de “conspiração”. O regime alternava o silêncio e o escárnio — ignorava sua presença, mas usava sua imagem como advertência.
“O governo precisava de um inimigo fixo”, avaliou Luis Vicente León, da Datanálisis. “Ao transformar Maria Corina em símbolo da oposição proibida, o chavismo garantiu um espantalho útil.”
Ao mesmo tempo, fora do país, a popularidade de Machado crescia em proporções inéditas. Em fóruns internacionais, era recebida com respeito diplomático e, em muitos casos, com reverência. Suas mensagens transmitidas por vídeo em eventos da Organization of American States (OAS) e do Parlamento Europeu circulavam amplamente nas redes.
“A resistência dela serve de espelho para democracias fatigadas”, afirmou José Miguel Vivanco, ex-diretor da Human Rights Watch nas Américas. “Há coerência entre o que ela defende e o que viveu.”
O paradoxo era evidente: dentro da Venezuela, o regime havia conseguido apagá-la da esfera pública; fora dela, transformara-a em mito.

A imagem da exilada sem exílio — impedida de sair, mas banida do espaço político — tornou-se um símbolo poderoso. A figura elegante, de voz controlada, representava para parte da diáspora uma memória de dignidade; para o chavismo, um espectro incômodo.
A repressão não se limitava à elite política. Nas comunidades populares, a vigilância também cresceu. Bairros inteiros eram monitorados por “coletivos” — grupos paramilitares pró-governo que controlavam o acesso a benefícios sociais.
“Os CLAPs se tornaram armas políticas”, relatou María Fernanda Rodríguez, pesquisadora da Universidade Católica Andrés Bello. “Quem reclama, deixa de comer.”
Enquanto isso, o Ministério Público multiplicava processos por “difusão de ódio”. Estudantes, jornalistas e até enfermeiras foram detidos por publicações em redes sociais. O medo, antes difuso, ganhou método.
Mesmo assim, atos simbólicos de resistência continuavam a surgir. Em janeiro de 2025, uma faixa com os dizeres “Maduro teme a voz das mulheres” apareceu na fachada de uma universidade em Caracas. O autor jamais foi identificado, mas a frase se espalhou pelas redes e foi rapidamente associada a Maria Corina.
A oposição, ainda dividida, começava a encontrar em seu nome um denominador comum.
“A coerência dela é o que sobrou da política venezuelana”, disse Colette Capriles, cientista política da Universidad Simón Bolívar, em entrevista à El País América. “Num cenário de cansaço, a figura moral ganha força.”
No exílio, a mobilização se intensificava. Em Bogotá, Buenos Aires e Lisboa, grupos de venezuelanos organizavam vigílias e protestos em frente a embaixadas.

As manifestações deixaram de ser partidárias e passaram a se identificar com causas mais amplas — liberdade de expressão, libertação de presos políticos, reconstrução democrática. Maria Corina passou a ser presença constante nesses eventos, mesmo à distância.
Sua estratégia era simples: manter-se visível. Transmitia mensagens curtas, quase diárias, em vídeos gravados de sua casa. Falava sobre esperança, reconstrução e fé, evitando o tom de confronto direto.
“Ela entendeu que a vitória possível é sobreviver como símbolo”, observou o analista Phil Gunson, do International Crisis Group. “É uma forma de resistência adaptada ao autoritarismo.”
A cada novo pronunciamento, multiplicavam-se hashtags e campanhas de apoio. Perfis no X e no Instagram, geridos por simpatizantes anônimos, divulgavam trechos de suas falas e imagens de antigos comícios. A censura interna gerava o efeito oposto: transformava cada silêncio imposto em viralização global.
A relação de Maria Corina com a comunidade internacional, no entanto, nem sempre foi harmônica. Parte dos diplomatas criticava seu discurso intransigente e a ausência de autocrítica sobre a oposição fragmentada.
Outros temiam que seu protagonismo reforçasse a polarização. Ainda assim, seu nome passou a aparecer em relatórios da ONU, na seção dedicada a “figuras sob risco político”.
“Ela virou um caso de estudo sobre como sobreviver à aniquilação política sem abandonar o discurso democrático”, analisou o jornalista Ewald Scharfenberg, do Armando Info.
Em março de 2025, uma nova onda de repressão atingiu líderes regionais ligados à oposição. Ao menos 120 pessoas foram presas em 72 horas, segundo a ONG Foro Penal.
O regime alegou “risco de atentados à segurança nacional”. Entre os detidos estava um assessor de Maria Corina, acusado de “instigação à violência digital”. Nenhum deles teve acesso a advogado.
No mesmo mês, ela publicou um vídeo de 90 segundos, em tom sereno, agradecendo a solidariedade internacional.
“Não quero ser lembrada como vítima, mas como cidadã”, disse. “A resistência é o direito de não se calar.”
O vídeo viralizou em toda a América Latina. Revistas internacionais passaram a tratá-la como “a mulher que não pôde sair, mas não desapareceu”. Entrevistas antigas foram republicadas, e sua imagem ganhou status de ícone moral.
Leia Mais
-
 Colômbia reage a ameaças dos EUA e alerta para erosão da ordem internacional
Colômbia reage a ameaças dos EUA e alerta para erosão da ordem internacional
-
 EUA intensificam pressão militar e diplomática em escalada contra Venezuela
EUA intensificam pressão militar e diplomática em escalada contra Venezuela
-
 Putin usa tensão com EUA para exaltar autonomia da Índia e reforçar eixo asiático
Putin usa tensão com EUA para exaltar autonomia da Índia e reforçar eixo asiático
-
 Rixi Moncada exige revisão das atas e denuncia interferência externa
Rixi Moncada exige revisão das atas e denuncia interferência externa
No plano interno, Maduro mantinha o controle quase absoluto das instituições, mas já não conseguia apagar completamente o mito. A repressão eficaz que silencia pessoas é ineficiente para silenciar símbolos.
“O governo venceu a guerra política, mas perdeu a narrativa”, avaliou Michael Penfold, da Universidad de los Andes. “E num país em ruínas, a narrativa vale tanto quanto o poder.”
Enquanto o regime consolidava o cerco e a economia se estabilizava artificialmente pela dolarização parcial, Maria Corina se transformava no que o chavismo mais temia: uma ideia.
Seu discurso já não era apenas político, mas existencial. Falava sobre liberdade, fé e reconstrução moral. Cada frase era uma forma de resistência civil — uma tentativa de preservar a dignidade em meio ao colapso.
A perseguição, paradoxalmente, a internacionalizou. O prêmio Nobel da Paz, anunciado em outubro de 2025, seria apenas a consequência lógica desse percurso — o coroamento de uma trajetória que começou nas ruas de Caracas e terminou nos salões de Oslo.
No próximo capítulo, veremos como essa consagração transformou a líder em mito — e como o Nobel da Paz reacendeu, ao mesmo tempo, a esperança e a disputa política em torno do futuro da Venezuela.
Capítulos anteriores:


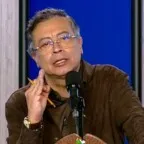







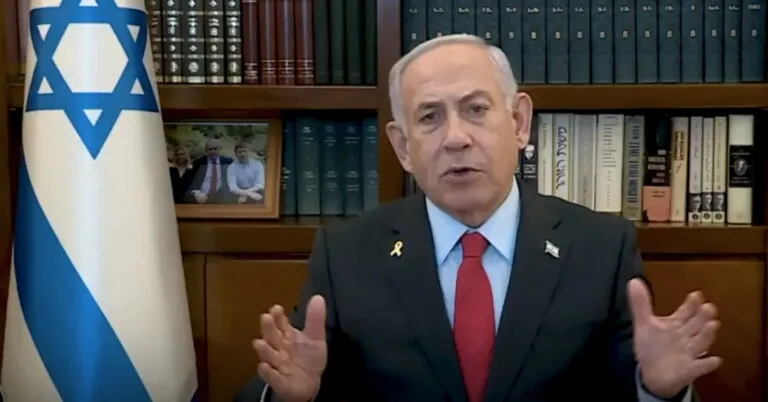




Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.
Ainda não há comentários nesta matéria.